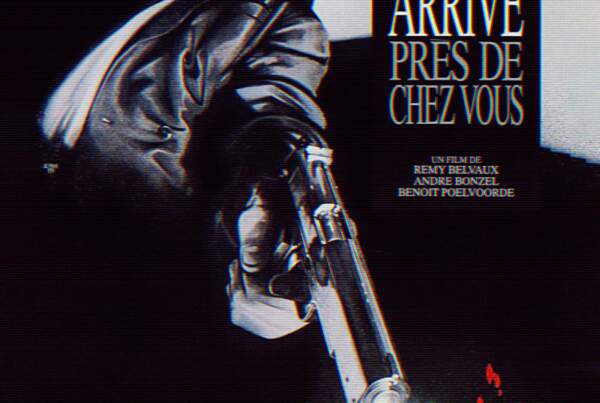Um edifício grande, uma piscina e uma família aparentemente comum. O pai leva os filhos ao deserto australiano e, repentinamente, saca uma arma e tenta matá-los. Sem sucesso, se suicida. A garota é obrigada a assumir uma função materna, tendo que tranquilizar e cuidar de seu jovem irmão. Perdidos e sem mantimentos, os dois vagam pelo vasto Outback. Ela não pode se desesperar nem contar a verdade, tem que ser o suporte para o garoto, que acredita que seu pai está a caminho para resgatá-los.
A história é simples, o que a torna magnífica são as escolhas narrativas de Nicolas Roeg. Os planos gerais revelam a desconhecida beleza do deserto e reafirmam a assustadora solidão dos irmãos. Da mesma forma, ele apresenta as árvores e os animais do local, que se dividem entre puros e selvagens. O belo e o estranho ficam lado a lado, despertando sensações contraditórias no espectador, que se perde nas paisagens deslumbrantes e no perigo iminente. Bichos apodrecidos, a textura da areia e a câmera que engrandece animais pequenos servem de contraponto ao fabuloso trabalho de fotografia, que capta imagens inigualáveis do nascer e do pôr do sol e das aves, que cantam e voam. Complexo em sua diversidade e geografia, o Outback é o pano de fundo perfeito para um filme sobre contrastes e a possibilidade/impossibilidade de convivência entre culturas distintas.
Uma sequência simples e que simboliza excepcionalmente o início da trajetória dos irmãos é aquela em que eles encontram uma fonte de água e uma árvore repleta de frutas. A elipse seca o “terreno”. Outro fato interessante a se analisar é a firmeza da adolescente, que, ainda que esconda alguma desesperança, precisa encorajar e levantar a criança, que, em contrapartida, encanta pela pureza e por ser imune à maldade “invisível”.
Aos dezesseis anos, todo aborígine é obrigado a vagar sobre a terra e sobreviver – isso é chamado de Walkabout. O jovem local é quem salva a dupla principal. O encontro, que poderia despertar insegurança e temor, é a alma do filme, que insiste no benefício da comunhão de diferentes culturas. Ele não entende inglês e a criança, que há pouco tempo se comunicava somente através de sinais, é quem administra o contato. A comunicação não é simples, mas é um sinal de empatia. O esforço que a adolescente faz para conseguir água chega a ser risível perto da facilidade com que seu irmão alcança esse objetivo.
O aborígine não usa roupas e vive graças à caça. A abordagem de Roeg nas sequências de “morte” é quase documental, seja pelo realismo da violência, seja pelo quadro que se fecha, seja pelo uso de câmera na mão.
A montagem, através da associação, confere a correta conotação à caça do aborígine. Enquanto ele espanca o canguru, vemos também imagens “complementares” de um açougueiro batendo na carne – situações diferentes cuja finalidade é idêntica. A estranha relação ganha bonitos contornos na medida em que os “estranhos” se aproximam. A diferença é aparente, mas a criança oferece um de seus brinquedos ao aborígene. Por sua vez, o nativo passa sangue animal nas costas do garoto para aliviar suas queimaduras. O rio é simbólico, limpa qualquer rastro de preconceito e une aquelas criaturas, que se banham desnudas. A montagem, como de costume nas obras de Roeg, é extraordinária. A garota nada livremente e a intensidade dos golpes desferidos pelo aborígene nos animais equivale ao seu afeto pelos novos amigos.
Ao lado dela, o nativo se torna mais expressivo, seu rosto passa a demonstrar emoções complexas e, em determinado momento, a partir de planos-detalhe, notamos um “despertar sexual” entre os dois. A trilha sonora traz uma série de camadas ao filme, potencializando a tensão do desconhecido e a beleza/harmonia do Outback e do fortuito encontro.
Infelizmente, o tempo corrompe as mentes e os corações dos cidadãos urbanos, que vão ao deserto com a intenção de dominar e destruir o que não lhes pertence. Por poucos minutos, vemos um grupo de aborígenes sendo explorados por adultos; já na cena mais aterradora da obra, alguns homens invadem o ambiente e matam animais recreativamente. O jovem, que estava brincando com um búfalo, vê aquilo e desmorona, se sente impotente e vulnerável. Sua caça é natural, um instinto de sobrevivência. Os bichos não são seus inimigos, pelo contrário, e os disparos de armas de fogo são demasiadamente dolorosos. Novamente, Roeg opta por uma abordagem íntima e visceral, expondo a reação de todos os animais apavorados. O uso de freeze frames e os planos-detalhe de seus restos apodrecidos são assustadores.
O aborígene retorna, porém não é mais o mesmo, grita, se pinta e dança estranhamente. A criança compreende sua dor, a garota não – a pureza é intoxicada com o tempo. Ele acaba se matando e a dupla, graças ao amigo nativo, encontra uma estrada. O Walkabout os salvou.
Os irmãos se deparam com um sujeito que os trata com tamanha ignorância, que questionamos se somos realmente uma espécie “evoluída”.
Anos se passam, voltamos à civilização e ao apartamento do início. A adolescente agora é uma mulher casada. Ela cozinha e a montagem compara seus cortes na carne aos golpes do aborígene. O marido chega com grandes notícias, no entanto, seu olhar desnorteado nos leva ao passado. A única coisa que passa pela mente da moça são os dias prazerosos, harmoniosos e culturalmente ricos no deserto australiano. No fim, Roeg utiliza imagens de paredes/muros e depois de rochedos/árvores, ressaltando o poder que os espaços têm perante o ser humano.
“Walkabout” é uma meditação sobre integração, sobrevivência, comunicação e humanidade. Uma obra prima incrivelmente linda e poética.