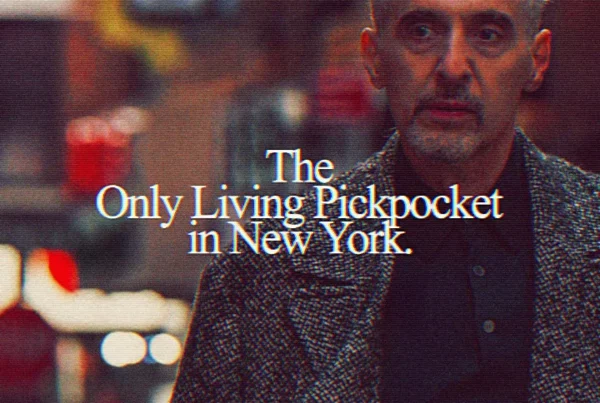A câmera atravessa a cozinha, apresentando os mais variados remédios. A fragilidade se estende à relação familiar. Bessie sempre cuidou de seu pai, que, segundo a própria, está morrendo há 20 anos, e de sua tia, uma senhora viciada em novelas. Não sabemos quais sonhos Bessie deixou de lado para se dedicar aos entes queridos, mas não temos dúvida de seu cuidado minucioso e interesse em fazê-los sorrir. Em um exame de rotina, para verificar a taxa de vitaminas, ela descobre que tem leucemia e que precisa realizar um transplante de medula óssea. Somos, então, levados ao extremo oposto da família, composto por Lee e Hank, irmã e sobrinho de Bessie. Hank colocou fogo na própria casa e está numa clínica psiquiátrica. Ele é incapaz de justificar suas ações, exala rebeldia e busca informações sobre o pai, um homem que, muito provavelmente, sumiu por covardia. Lee busca a estabilidade, mas não lida bem com tarefas simples. Sua inabilidade enquanto mãe fica evidente pela falta de sensibilidade que tem ao lidar com um jovem cujos dilemas precisam ser levados a sério.
Quando vai à clínica, Lee encontra o filho inconsciente e, em vez de demonstrar preocupação, pergunta se aqueles poucos minutos contam como uma visita “completa”. Estamos falando de uma mulher extremamente egoísta que fez escolhas equivocadas e que não vê a irmã há 20 anos. Bessie cuida até demais dos outros; Lee cuida, ainda que porcamente, apenas de si. A viagem para o teste de medula serve de pretexto para uma improvável reaproximação. Ao encontrar seu pai, Lee não sabe como reagir; não fazia ideia de seu estado, afinal, nunca o procurou. A relação mais interessante estabelecida pelo roteiro é entre Bessie e Hank. Por trás de toda a rispidez e petulância, há um garoto implorando por afeto e empatia. Acostumada a escutar os outros, Bessie oferece ao sobrinho um espaço, até então, desconhecido. Esse senso de despertar pessoal é ressaltado na bela sequência da praia, na qual as risadas surgem naturalmente. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que aperte os botões certos, corrigindo os erros de outras pessoas.
À distância, Lee observa os dois, num misto de ciúmes e busca por aprendizado. Em sua perspectiva, ela dialoga o suficiente e faz o possível para que o filho seja feliz. Não é sobre a intenção, mas sobre o trato humano; aqueles que vivem somente para si, não enxergam as complexidades alheias. Hank, que não tinha certeza se faria o teste por uma pessoa que não conhecia, decide ajudar a tia, numa delicada demonstração de carinho. Por mais falha e cansativa que Lee seja, não podemos chamá-la de má. Os equívocos do passado, caso ignorados, nos transformam em seres equivocados – e esse é o caso aqui. Após Bessie dizer: “Não éramos íntimas”, o diretor Jerry Zaks corta para um plano conjunto, afirmando que, sim, as irmãs mal se conheciam. Mesmo assim, é possível notar o apreço e o esforço que Lee faz para não embaraçar Bessie. Há uma sequência que se passa na Disney que, graças aos cortes constantes e à presença invasiva do sol, sintetiza perfeitamente o medo de estar prestes a morrer. As qualidades estão aí; no entanto, não posso negar que, em muitos momentos, senti o desejo quase sádico do cineasta de arrancar lágrimas do espectador. A fotografia passa uma ideia de suavidade e maciez, conferindo a “Marvin’s Room” o selo de “Sessão da Tarde”. A cafonice, por vezes, é gritante – Manoel Carlos deve adorar este filme.
O elenco estelar é o principal responsável pelo êxito contido do projeto. Meryl Streep, Diane Keaton, Robert De Niro, num papel irrelevante, e o jovem Leonardo DiCaprio estão excelentes.