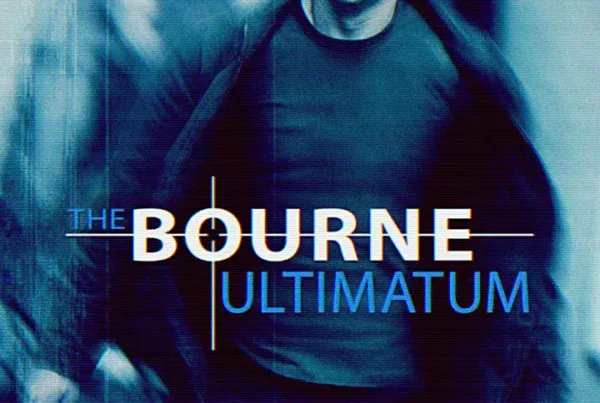Logo na primeira cena, Michael Mann diferencia “Thief” da maioria dos “Neo-Noir/Heist Movies”. Sua preocupação em apresentar os preparativos e a engenhosidade dos “profissionais” que assaltam joalherias é única. A trilha sonora eletrônica e ágil, combinada com planos-detalhe da furadeira penetrando o cofre, além de conferirem tensão ao momento, dão um aspecto quase artístico ao feito daqueles homens. A sequência é longuíssima e há outras ainda mais elaboradas no decorrer da trama.
Frank e seus parceiros trocam de carro três vezes e o ambiente, úmido e frio, diz muito sobre as suas existências, seres marginalizados que agem na surdina. A fotografia em tons azulados se confunde com a roupa do protagonista, da mesma cor, simulando uma camuflagem.
Após o intenso e silencioso serviço, Frank caminha despretensiosamente, sem direção. Ele cansou disso, tem em sua carteira uma colagem da sua vida ideal e, para atingir tal objetivo, precisa de uma família. Tudo é muito sutil e sigiloso, percebam, por exemplo, a negociação no restaurante – enquanto Frank vende sua mercadoria, observa Jessie, sua futura esposa.
No mesmo espaço, está aquilo que o protagonista deseja abandonar e a vida que pretende abraçar daqui em diante. Ele não gosta de confusões, todavia, quando é sacaneado, é firme e direto. Gags, responsável por coletar o dinheiro, é assassinado, o que leva Frank a conhecer Leo, um gângster poderoso.
Quando se encontram pela primeira vez, Mann opta por um plano aberto – distância refletida no relacionamento entre os dois. “Sou autônomo. Não lido com egos”. Convincente em sua retórica e, a princípio, amigável, Leo surge como uma oportunidade. Em contrapartida, a polícia, que não seguia os rastros invisíveis de Frank, vigia a conversa dos dois – o efeito do gângster, um peixe grande. Mann não subestima a inteligência dos criminosos, os seres que melhor conhecem as engrenagens dos meios urbanos, sempre um passo à frente dos demais. Frank sai correndo para encontrar Jessie, que o esperava há duas horas em um bar.
Se o protagonista é bem-sucedido por entender perfeitamente os mecanismos do submundo, não podemos dizer que sua compreensão acerca de convenções sociais é tão boa assim. Ele carrega Jessie pelo braço até seu carro e, sem rodeios, fala sobre seus planos, o papel que a moça exercerá em sua vida e sua trajetória até aqui. Por mais egoísta, destrambelhado e agressivo que seja, Frank é inegavelmente honesto. “Você tem que chegar a um ponto onde nada significa nada”, relata o protagonista, relembrando os tortuosos anos que passou na prisão. Ele cansou de ser um sobrevivente, quer experimentar outras sensações, se sentar à cabeceira de uma mesa e relaxar. O protagonista apresenta um lado desconhecido, sua tristeza ao falar sobre os onze anos jogados fora e a emoção que demonstra ao mostrar a colagem de fotos para Jessie são palpáveis, provas concretas de sua vulnerabilidade e genuíno desejo de seguir em frente. “Eu já perdi tudo”. Ela, que se contentava com um cotidiano pragmático, pacato e sólido, decide embarcar na loucura lúcida de Frank. O encontro, que havia começado com uma árdua discussão, termina com um belo plano-detalhe das mãos entrelaçadas. O azul, principal símbolo do filme, está presente na mesa e no assento do Diner, salientando a condição dos personagens, acostumados com a escuridão e a desesperança.
O protagonista precisa juntar uma considerável quantia de dinheiro para abandonar o crime de vez e, logo em sequência, já está planejando um ambicioso assalto com Leo e Barry, seu grande amigo. A narrativa é ágil, empática em relação a Frank, que corre contra o tempo. Mann permite que seu “herói” vislumbre o sonho. A roupa vermelha de Jessie é um poderoso símbolo de otimismo, de uma felicidade desconhecida e contagiante. Frank, até então, tratava o seu relógio dourado como uma marca de poder e sucesso, no entanto, ao adentrar as camadas “ordinárias” da sociedade, percebe que suas ações são mais importantes que qualquer objeto valioso. Sua felicidade ao descobrir que Leo pode comprar um bebê no mercado clandestino é tão pura e inocente, que ele não nota a real intenção daquele ato: o gângster quer submetê-lo, tacitamente, a um contrato vitalício.
Outro momento belíssimo, que expõe o lado sensível do protagonista, é aquele no qual Okla, seu mentor e figura paterna, está prestes a morrer. Frank evita demonstrar sentimentos, considera uma fraqueza e a retórica que adota para distrair o velho amigo denota carinho e melancolia. A polícia, abertamente corrupta, se mete no meio, no entanto, não tem provas para incriminar o protagonista, cujos princípios são inegociáveis. A sala em que ele é espancado é pequena e escura; como torná-la ainda mais claustrofóbica? Fácil, basta enchê-la de policiais ferozes. Ele não abre a boca, não existe ameaça ou cubículo capaz de intimidar Frank. O “último ato” do protagonista no crime é uma obra de arte. O caráter artesanal e árduo do trabalho se confunde com a motivação do “herói”. A trilha suscita um clima de alívio, de missão cumprida, todavia, o luxuoso banco é dominado por paredes cinzas e tons frios – Mann, a todo instante, ratifica a posição de seus personagens e nos prepara, elegantemente, para o desfecho. Vestido de branco, Frank está na praia com sua mulher e filho, finalmente em um espaço aberto, próximo do mar, o que dá a ideia de liberdade. Infelizmente, como já era de se esperar, na hora da coleta e do adeus, Leo entrega uma quantia irrisória e fala sobre os próximos assaltos. O protagonista não percebera que vendeu sua alma para o diabo. Sua casa, seu filho e o suborno dos policiais estavam na conta do gângster, dono de sua ascendência e liberdade. Ele acreditava que Frank abandonaria tal ideia e demonstrasse “gratidão”, mas não, Frank sabe a diferença entre gratidão e traição.
O contra-plongée e a fumaça evidenciam o poder de Leo e a difícil decisão que o protagonista teria que tomar. O texto de Mann é honesto e pessimista, não suaviza a opção de seus personagens, destinados a uma eterna prisão, sem condicional nem regalias. É como uma rua sem saída, você até pode avançar um pouco e vislumbrar um escape, porém, no fim, se deparará com um muro, uma barreira intransponível.
A escuridão, ainda mais enclausurante, retorna. Frank admite de vez sua condição, assumindo um niilismo estilizado por Mann através do uso de câmera lenta e do design de som, que vai do silêncio absoluto à explosão com muita classe – nada faz sentido, nada importa.
O mesmo elogio serve para o clímax, em que Mann segura a tensão até o último instante, começando com um ângulo baixo e alternando os enquadramentos. O momento em que a trilha entra é catártico – a banda Tangerine Dream nunca esteve tão inspirada. Quando Leo toma um tiro, Mann corta para um quadro mais fechado, enfatizando a brutalidade. A música e a câmera lenta concebem uma atmosfera cool e épica. Frank sai caminhando em direção ao vazio absoluto…
A fotografia não se vale apenas do azul, os tons esverdeados conferem um aspecto doentio e degenerado àquela cidade.
James Caan nunca esteve melhor. Ele é durão e firme como um bom criminoso, todavia, tem sonhos e vulnerabilidades. O esforço que o ator faz para não expressar tais fragilidades é tocante, humaniza o protagonista. Seu rosto é algo a ser observado, repleto de nuances e emoções poderosas.
“Thief” foi a obra que alçou Michael Mann ao patamar de mestre.