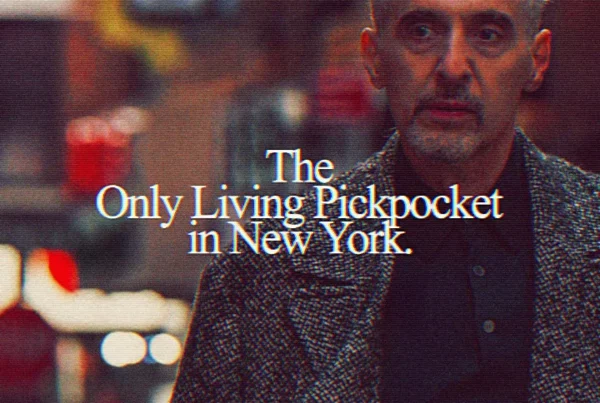“The Seventh Continent”, a estreia de Michael Haneke, é uma das obras mais frias, melancólicas e pessimistas que já assisti.
Dividido em três partes, o filme apresenta de forma bastante sutil onde está querendo chegar. É bastante provável que o espectador mais desatento leve um susto no desfecho.
A família Schober, a princípio, parece como qualquer outra. Anna é uma oftalmologista, Georg é um engenheiro prestes a ser promovido e a pequena Eva frequenta a escola. A casa, surpreendentemente tomada por tons distintos, inclusive quentes, apenas ratifica o que foi mencionado acima.
O que Haneke faz é despedaçar um núcleo frágil que aparentava ser algo que não é. Seus grandes alvos são a sociedade contemporânea, a vida moderna e, porque não, o capitalismo. A graça do filme está em sua abordagem, que preza pela impessoalidade e por deixar o espectador numa posição de desconforto. Os ângulos baixos, seja em travellings, seja com a câmera estática, não permitem que vejamos os rostos do personagens; seus planos-detalhe de absolutamente qualquer objeto ou parte do corpo; os close ups; o contraste entre planos curtos – interrompidos por cortes abruptos – e longos, de situações aparentemente banais, ditam o ritmo do filme, criando rimas entre as três partes e levando o espectador a raciocinar desde o primeiro segundo.
A velocidade que a caixa do supermercado digita não é normal e o design de som é preciso ao ressaltar quão incômodo aquele barulho é.
Existe uma certa competição no trabalho, o trato de Georg com o chefe não é dos melhores e, apesar de estar próximo de uma promoção, ele não se sente confortável quando precisa informá-lo que suas coisas estão no setor de RH. O irmão de Anna, extremamente deprimido após a morte da mãe, janta na casa da família e, após algumas risadas e conversas forçadas, chora copiosamente. Haneke e seu montador sabem muito bem como criar desconforto a partir de close ups e cortes rápidos. Sua transição para um plano geral – outra marca importante que denota a impessoalidade de sua obra – é perfeita. Por que a música estava tão alta?
Eva é uma criança solitária, cuja voz mal sai de sua garganta e que parece cada vez mais desintegrada na escola, inventando coceiras na barriga e até mesmo uma cegueira.
Existe um padrão muito claro e Haneke usa a base capitular para expor a monotonia e o cansaço daquelas pessoas. O relógio toca, Georg coloca os sapatos, Anna acorda Eva, prepara o café da manhã, eles escovam os dentes e partem para os seus compromissos. A ida ao lava jato é recorrente e a repetição leva a diferentes abordagens do diretor. Na primeira vez, nem vemos os personagens, apenas o carro se movendo lentamente; na segunda, Haneke investe em close ups, estabelecendo uma sensação intensa de claustrofobia, que chega ao seu ápice no choro de Anna.
Os rostos são imutáveis e as vozes denotam não só cansaço, mas um profundo desinteresse perante a vida que levam.
Os Schober não têm amigos, não são pessoas felizes e se comunicam com seus familiares somente através de cartas. O casal não se abre, não dialoga e quando faz sexo, a impressão que temos é de algo burocrático.
O salário de Georg, o emprego de Anna e a herança de sua mãe lhes permitem uma condição financeira bem confortável e isso não importa, sendo esse o grande ponto.
A casa perde cores ao longo dos atos, os tons azulados e acinzentados, de modo geral, tomam conta dos ambientes e o que já parecia insuportável graças a manutenção de um cotidiano pacato, cujo intuito é sobreviver, consumir e fingir que está tudo bem, se torna insustentável.
A escola é uma mera formalidade e o diretor faz questão de tratar as aulas da forma mais enfadonha possível e os alunos como robôs, sem qualquer tipo de identidade ou interesse. A verdade é que todos nesse filme agem assim, cada membro da família sabe a sua função e a exerce sem reclamações.
Mas afinal, o que é o sétimo continente do título? Simples, é o destino que os três decidem tomar.
Georg se demite, pega todo o seu dinheiro guardado no banco e Eva abandona a escola. A decisão de levar a filha com eles não é fácil, no entanto, ela já havia demonstrado interesse nessa viagem anteriormente…
O que realmente faz de “The Seventh Continent” uma obra prima, é que não precisamos criar um vínculo com os personagens para nos envolver com a trama. Como ressaltei, Haneke, na maioria das vezes, não está interessado na família, mas nas repetidas ações que levam ao impressionante final. Ângulos baixos e planos gerais nos afastam deles e quando nos aproximamos, ficamos incomodados por tamanha intimidade em situações desconfortáveis. É claro que o terceiro ato – que manterei sob suspense – é impactante e que sentimos pena daquelas pessoas. “Posso assistir televisão no meu quarto?”, pergunta Eva, esbanjando ingenuidade.
Contudo, o verdadeiro choque está no porquê de todo aquele caos. Nada é gratuito, nenhuma atitude extrema, ainda mais de uma família “comum”, parte do nada. A vida não pode ser tão previsível, banal, enfadonha e melancólica; não pode ser uma formalidade, se basear em cargos maiores, numa competição que faz mal a todos, nem pode faltar com o diálogo. Precisamos de um sentido.
Não ligamos se o filme é sobre a família Schober, poderia ser sobre qualquer uma, inclusive a minha, por isso “The Seventh Continent” é tão poderoso e importante.
Se jogar dinheiro na privada e destruir bens materiais não são sintomas de um capitalismo corrosivo, sinceramente, eu não saberia dizer o que é. Enquanto isso, Eva, infeliz, porém muito jovem, rasga seus belos desenhos, sem entender bem o que estava acontecendo.
Em 1989, Haneke já criticava a influência danosa da tecnologia. Percebam que o fim da vida e o fim do sinal da televisão estão diretamente ligados. O domínio americano é algo que provavelmente o incomodava bastante – quem viu o filme até o fim sabe do que estou falando.
A direção de arte chama a atenção pela transformação que a casa sofre da primeira à última parte. Não há nenhuma intenção por parte da equipe de expor uma melancolia desde o início, o tratamento é gradativo, justo e honesto.
A fotografia segue um padrão similar, apesar de nunca apostar em tons fortes, que simulariam algo diferente do que os personagens realmente sentem. Entretanto, a escuridão no desfecho não se compara a nada que havíamos visto anteriormente.
A já elogiada montagem é muito expressiva, não só pelos cortes abruptos, também pelo uso de fades, formando, no fim, uma rima com o destino da família. A falta de certas respostas é essencial para a manutenção do tom niilista e pesado do filme.
A crueza da narrativa é nítida e a ausência de uma trilha sonora apenas reafirma essa proposta.
Os atores estão muito bem, principalmente Birigt Doll, que interpreta Anna. No entanto, estaria mentindo se não assumisse que o protagonista e responsável pelo êxito de “The Seventh Continent” é Michael Haneke, cujo talento e estilo próprio eram notáveis desde a sua estreia, uma das melhores e mais subestimadas da história do cinema.
O que você achou deste conteúdo?
Média da classificação / 5. Número de votos:
Nenhum voto até agora. Seja o primeiro a avaliar!