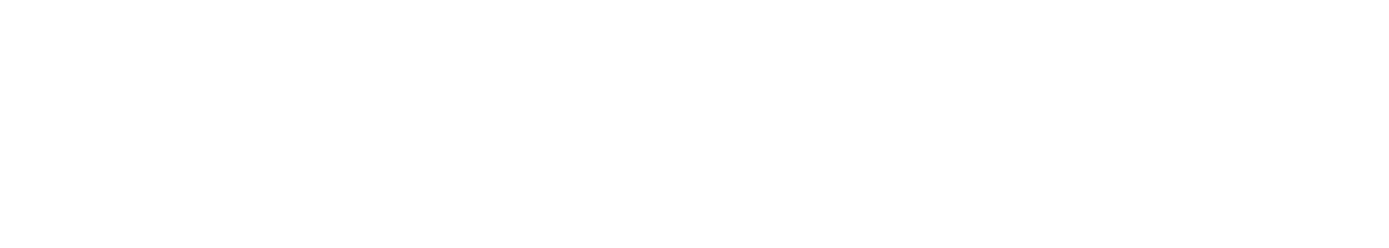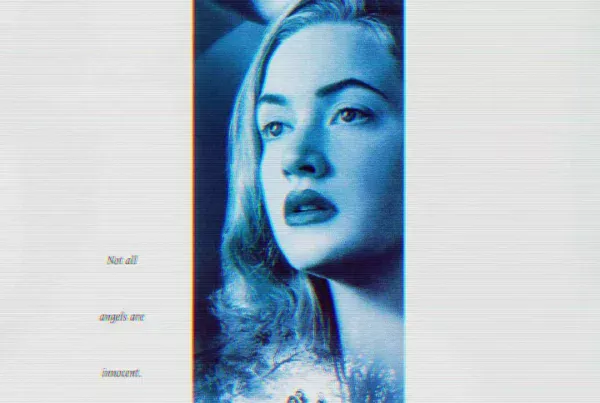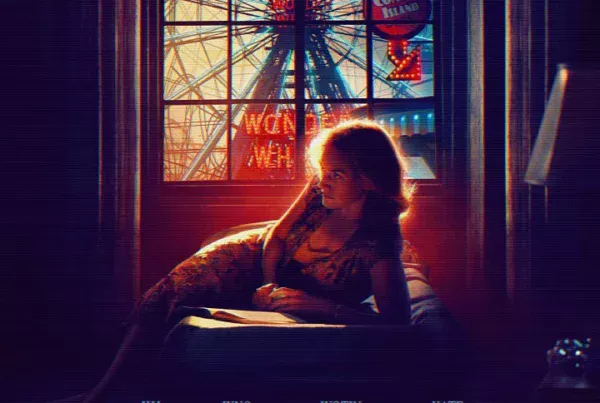“Hell In The Pacific”, de John Boorman, conta com apenas dois atores em seu elenco: Lee Marvin e Toshiro Mifune. Em um filme praticamente sem diálogos, a presença de intérpretes que dominam a tela com seus rostos se torna obrigatória.
Em meio a Segunda Guerra Mundial, um piloto americano e um capitão japonês se vêem presos numa ilha, sem muitos recursos. Boorman, engenhoso e perspicaz, evita que o projeto caia na mesmice, apresentando um repertório narrativo que mantém o espectador investido na história. Os planos do sol, aliados ao fogo e a presença de fumaça, fomentam a rivalidade bélica entre os dois; uma rivalidade que se estende a questões filosóficas, culturais e práticas. Boorman trabalha com zooms e rápidas panorâmicas, investindo numa tensão crescente. No primeiro contato, o cineasta vai de close ups intensos para um plano conjunto, simulando a lógica de duelo “western”. Boorman, ciente do talento e da expressividade de seus atores, explora cada contorno de seus rostos, chegando a planos-detalhe de seus olhos.
O contraste de personalidades e o jogo de “gato e rato” também proporciona um humor ocasional. O americano é sacana, irônico e bruto; enquanto o japonês é explosivo, organizado e cerebral. A busca por água aquece a rivalidade e Boorman, com um senso de humor peculiar, a sintetiza num enquadramento belíssimo: em primeiro plano, no mar, vemos o japonês, e, ao fundo, na areia, o americano, correndo para roubar o mantimento do rival. Para transmitir a ideia de aprisionamento e claustrofobia, Boorman utiliza planos gerais, capazes de expor a vasta solidão, e os coloca em ambientes apertados, que geram desconforto. A trilha sonora é poderosa, evocando a fúria e o caos da guerra, ao mesmo tempo em que potencializa os momentos de silêncio, nos quais escutamos apenas o barulho da natureza.
“Hell In The Pacific” é um dos filmes que melhor aborda o absurdo da guerra. Por que os protagonistas se odeiam se nem entendem o que o outro diz? Eles realmente se odeiam ou foram ensinados a reagir de tal maneira? A falta de comunicação é um pretexto para a guerra; ou seja, os princípios básicos que levaram parte do mundo à destruição estão sintetizados naquela ilha remota. Somente quando o desespero e o tédio se tornam insuportáveis, que os dois começam a agir como seres humanos, abandonando preconceitos e mandamentos bélicos. Ali, o japonês e o americano percebem que terão que trabalhar juntos para sair da ilha. Mais do que isso: o roteiro propõe uma análise valiosa sobre os seres humanos, seres, por natureza, sociáveis e comunicativos. Eles não falam a mesma língua, mas passam a prestar a atenção nas expressões corporais, na entonação e na feição. Eles percebem que são amigos, não rivais – esse é o tamanho das performances de Marvin e Mifune.
A empatia está em gestos delicados, como, por exemplo, quando o americano cobre o japonês do sol torrencial. A viagem de balsa é perfeita ao estabelecer um paralelo entre a natureza humana e a natureza em si: caos e harmonia; discussão e empatia. Os exuberantes planos em contraluz são sucedidos por brigas contra a correnteza. A chegada a uma ilha com mantimentos, que era uma base militar, simboliza a importância da união em tempos estranhos. Boorman nos brinda com situações genuinamente doces e agradáveis, elevando a amizade a um nível inimaginável; todavia, ao mostrar flores murchas num terreno abandonado, deixa claro que optará por um desfecho pouco otimista. A condição das belas flores é um reflexo do efeito da guerra perante a humanidade – ela destrói a pureza e a sensibilidade do contato humano. Com um desfecho abrupto, Boorman afirma que as coisas nunca mais serão como antes; que algum tipo de monstruosidade assolou a alma de homens que seguem a desordem, mesmo sabendo que o outro é um bom amigo.
“Hell In The Pacific” é um dos projetos mais subestimados de John Boorman.