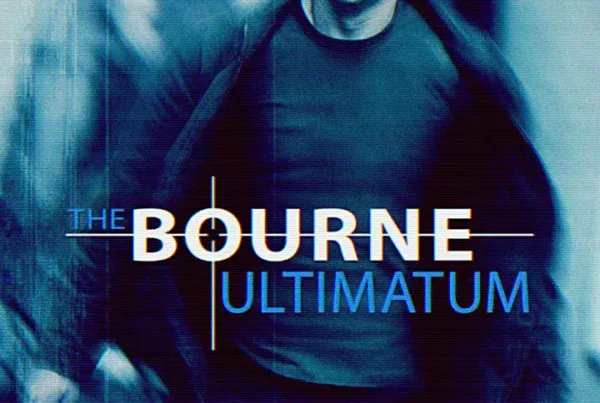Os cabelos grisalhos, a aparência abatida e a casa na praia dizem muito sobre a atual situação de Will Graham, um detetive que se aposentou precocemente. Jack Crawford, seu antigo colega, bate à sua porta à procura de ajuda. Eles se sentam em posições opostas no banco e o protagonista evita contato visual, mas acaba sendo convencido a retornar à ação, dessa vez para caçar um assassino apelidado de “fada dos dentes”. Will diz para sua esposa que não entrará a fundo no caso e o forte tom azulado, dominando a residência, reflete o estado de impotência dela, que sofre silenciosamente.
O filme inicia no ponto de vista do assassino. A câmera na mão e a crueza da imagem, captada de maneira amadora, são suficientemente perturbadoras – não precisamos ver o assassinato da família.
Quando Will vai analisar a cena do crime, Michael Mann opta pela mesma abordagem, alterando apenas a textura da imagem, mais sóbria e menos degenerada. Dessa forma, o diretor estabelece um paralelo entre os personagens. Ambos são voyeurs, obcecados pela observação sanguinolenta. O protagonista é chamado por deter uma habilidade raríssima: a empatia capaz de compreender a mente de psicopatas, suas motivações e pontos de satisfação. Não estamos falando de um poder sobrenatural, ou seja, Will esconde algum tipo de prazer naquilo, o que o machuca profundamente. De certa forma, o “fada dos dentes” representa aquilo que detesta em si, a parte que deseja aniquilar.
“Manhunter” não é um filme especialmente violento, seu horror está na mente do protagonista, no tortuoso caso que se vê obrigado a desvendar – uma espécie de terapia de risco. O quarto da família assassinada, inteiramente branco, é uma bela sacada da direção de arte, permitindo que o sangue ganhe um destaque ainda maior. O detetive grava seus pensamentos enquanto observa cada detalhe no cômodo. A voz carregada e a roupa preta marcam o arco de um homem preso a um trauma irremediável. “Seus atos nutrem sua fantasia”. Como ele pode ter tanta certeza disso? Estar ali o adoece e o excita.
A maior prova de que o filme é, em suma, sobre Will, está numa cena, a princípio, pouco relevante. Notem que, ao ser apresentado para o chefe do departamento policial, ele está com uma camisa verde e que a luz no fundo também é esverdeada. Somos apresentados a Lounds, um jornalista sensacionalista que tem um desfecho absolutamente brutal.
Sem grandes pistas, o protagonista precisa reencontrar a mudança de espírito, e só chegará lá caso confronte o responsável por sua aposentadoria. Cinco anos antes de Anthony Hopkins, Brian Cox deu vida ao infame Hannibal Lecter, em uma interpretação fantástica, muito mais fria e cerebral. O psicólogo canibal de Cox não faz caretas, nem barulhos estranhos; seu senso de superioridade, suavidade na fala e visível irritação por ter sido “capturado” geram uma enorme perturbação. É como se, ao mesmo tempo, ele não ligasse para nada e estivesse a ponto de cometer outro crime. Lecter não esqueceu o fato de ter sido superado por Will e, por mais que nutra um imenso – e não verbal – ódio pelo detetive, está certo ao afirmar que eles têm muito em comum. Através de planos e contraplanos, magistralmente combinados pela montagem, vemos os dois atrás de grades – presos por suas obsessões. No passado, Lecter quase matou Will, que precisou ficar meses na ala psiquiátrica do hospital. Ainda assim, ele está ali e o medo que sente, evidenciado pelas batidas na porta, pedindo para sair da cela, é palpável. A cor das roupas, preto e branco, diferenciam os personagens – uma diferença de lados de uma mesma moeda.
Lecter entra em contato com o “fada dos dentes”, todavia, a polícia não tem acesso ao bilhete completo. Eles tentam atrair o assassino através de uma matéria de Lounds, no entanto, o plano, além de não dar certo, expõe quão longe os oficiais estão da verdade. A mesa comprida, repleta de especialistas, os cortes constantes e os close ups ressaltam o cansaço e o árduo trabalho. As fotos das famílias assassinadas ganham outra conexão quando Will descobre que sua esposa e filho estão em risco. A trama ganha em complexidade, tornando-se mais intensa e emergencial na medida em que conhecemos o sujeito por trás dos crimes. Sim, demoramos aproximadamente uma hora para vê-lo, o que reforça seu anonimato e destreza. Em sua primeira aparição, sua presença é pressentida pelo espectador – a direção de Mann nos leva a crer que alguém está observado Lounds. Ao se levantar, a impressão é que estamos diante de um monstro enorme, não de um ser humano – seu efeito é intoxicante. Mann foca no pavor, não na violência gráfica, cortando para um plano da rua silenciosa quando o “fada dos dentes” morde outra vítima.
A fotografia é espetacular; as sombras conferem dúvida e tensão; o vermelho e o azul nas salas de análise de coleta servem à narrativa, ratificando a violência que permeia a trama e a impotência dos policiais, longe de qualquer conclusão. No suposto embate, que se revela uma grande furada, Mann centraliza Will no quadro, e o uso de contraluz, câmera lenta e planos subjetivos ressalta o perigo e a posição do protagonista na história. A preocupação do cineasta com enquadramentos meticulosamente alinhados é impressionante – aqui, o caos não é divorciado da beleza.
Da mesma forma que demoramos a ver o assassino, Reba, seu interesse romântico, também não surge de imediato. Ela intimida Francis – esse é o seu verdadeiro nome -, que oferece uma carona, porém não a deixa tocar em seu rosto. Um detalhe: Reba é cega, escancara a vulnerabilidade do psicopata, mas não é capaz de enxergá-la – tudo se encaixa lindamente.
Francis quer ser desejado; seus assassinatos, a seu ver, são a única maneira de alcançar tal objetivo. Ele monta cenários com seus cadáveres e grava tudo para rever suas obras. Os planos-detalhe do corpo de Reba, aliados ao design de som que potencializa o barulho do projetor, formam uma atmosfera inquietante. Seu nervosismo e choro, escondidos pela mão que tampa a boca, são marcas de uma criança transformada num monstro. A luz radiante que atinge o casal na manhã seguinte e a angústia que Francis sente ao perceber que Reba não está ao seu lado adicionam contornos interessantes ao personagem.
O jogo de gato e rato se inverte constantemente e o roteiro prepara o terreno para um clímax memorável. Outro momento em que Mann reafirma seu talento para compor quadros é aquele no qual Reba se despede de um colega do trabalho na porta de casa. Francis, em primeiro plano, abaixa a cabeça na hora do cumprimento, invadindo nosso campo de visão, fazendo-nos crer que eles se beijaram.
No fim, ainda que o último plano seja um tanto otimista – remete ao sonho que Will teve com sua esposa -, o sentimento maior é de alívio e esgotamento. Torcemos para que o protagonista tenha se livrado de seus demônios e que encare a vida familiar com mais leveza, porém não podemos cravar nada.
A trilha sonora e as escolhas musicais conversam entre si, sendo, simultaneamente, cool e essenciais para a narrativa.
Tom Noonan é um grande ator e sua composição é magistral. Francis é fisicamente imponente, no entanto, seus gestos corporais denotam fragilidade. Seu rosto é perturbadoramente passivo. A partir dessas contradições, Noonan concebe um personagem imprevisível, assustador e digno de pena.
William Petersen oferece uma performance magnética. Sua busca por uma cura se mistura com a obsessão de perseguir os seres mais degenerados possíveis. O peso está em seu rosto exausto e traumatizado, porém, em vez de se afastar, ele só entra mais em contato com o caso. Seu ofício é doentio e Petersen, que havia feito um trabalho fenomenal em “To Live And Die In L.A.”, lançado um ano antes, comprova o seu talento para interpretar personagens dessa natureza.
“Manhunter” é um dos melhores “Neo Noir” já realizados, uma obra prima que merece um reconhecimento maior.