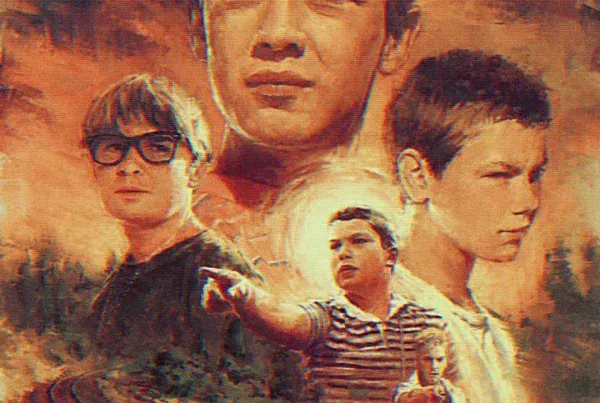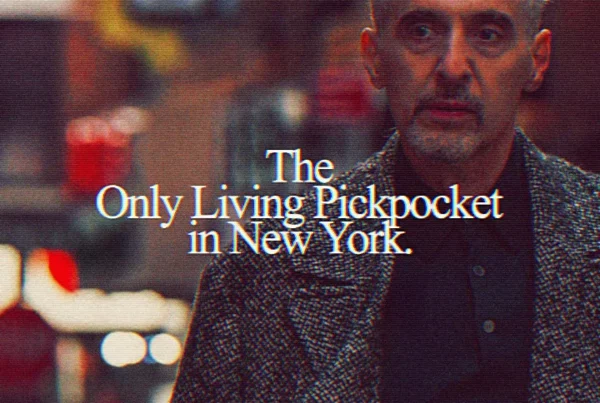“Don’t Look Back”, de D.A. Pennebaker, apresentava Bob Dylan em sua última turnê antes de migrar para a guitarra elétrica e “trair” o movimento Folk. Havia um forte senso de solidão nos concertos de 1965. O compositor ficava sozinho no palco e as pessoas escutavam atenciosamente, como se ele fosse um messias. Grandes artistas, na maioria dos casos, não conseguem ser fiéis a si mesmos, acabam aderindo a uma série de personas. No documentário lançado em 1967, Pennebaker mostrou o Dylan endeusado pelas massas, o colocou em um pedestal e o tirava quando necessário, a fim de explorar o ser humano que brinca, se diverte e ri.
Em 2007, Todd Haynes realizou I’m Not Here, a melhor cinebiografia já feita. Seu mosaico dos diferentes Dylans é espetacular. O gênio evolui musicalmente, no entanto, esse não é o motivo exclusivo pela gradativa metamorfose do cantor, constantemente atacado pela mídia, que exigia explicações por suas complexas letras e um engajamento digno de um líder.
As entrevistas fervorosas de “Don’t Look Back” foram impecavelmente encenadas em “I’m Not There” e o documentário deixou uma imagem tão poderosa de Dylan, que já podíamos vislumbrar a reação dos fãs, que viam no cantor um mentor, um guia espiritual e político.
Brilhante, Haynes compreendeu sua natureza errante e “rebelde”, nos apresentou um painel rico e abstrato, no qual as cores formavam uma imagem intrigante, porém inconclusiva.
Afinal, quem é Bob Dylan e por que ele é a figura artística mais interessante de todos os tempos?
Dirigido por Martin Scorsese, “Rolling Thunder Revue” é um belo complemento aos filmes citados acima. Na obra prima de Pennebaker, Dylan se apresentava somente com gaita e violão, isolado, como se estivesse impondo a si um fardo impossível de se carregar.
Teria o gênio projetado uma ideia na mente das pessoas? Dez anos após o tour pela Inglaterra, Dylan embarcou numa turnê circense, na qual ele era o motorista e os músicos eram seus amigos. Quem quisesse, estava convidado a subir a bordo, o protagonista não era mais o trovador solitário. O estilo cool e minimalista se esvaiu, dando espaço a performances enérgicas, repletas de interações. O público não olha o artista de cima, eles estão no mesmo degrau e se ajudam durante o espetáculo, recarregando a energia, um do outro. Em um close up, bem no fim, podemos ver Dylan rindo e se movimentando descontraído no palco. Isso significa que ele não estava feliz em 1965?
Não, pelo contrário, Pennebaker trouxe à tela uma imagem leve e divertida do artista. O protagonista não era imaturo, contudo, determinadas coisas demandam tempo para serem captadas e internalizadas. Talvez Dylan tenha se dado uma importância maior do que a ideal, talvez não precisasse ser tão incisivo com os repórteres. Suas transformações salientam uma genuína e natural vontade de evoluir. A fase Folk foi de um brilhantismo inigualável, entretanto, há de se testar e sair da zona de conforto, caso contrário, sua carreira teria durado menos de uma década.
A “traição” desperta curiosidade até nos mais puros. Dylan sempre foi honesto, nunca se mascarou ou vendeu uma imagem falsa. Ele fez o que quis, cantou e tocou o que lhe interessava e transitou entre diferentes personas sem pedir permissão para empresários ou fãs. Se em algum momento Dylan impôs um fardo, foi por ser demasiadamente inteligente – essa é a sua maldição.
O filme de Martin Scorsese é contagiante, expõe um grupo de artistas e amigos em seu estado mais puro, sem supervisores, longe da escala gigantesca das metrópoles americanas. A turnê tinha a missão de redescobrir a América. Claro, existe um toque de ironia em tudo que Dylan fala, todavia, em vez do culto de 65, o que temos aqui são pessoas que gostam de música, que foram ao show buscando diversão. Em termos lucrativos, a “Rolling Thunder” foi um fiasco, afinal, o compositor só se apresentou em teatros com capacidade para três mil pessoas e tinha na equipe dezenas de colegas. Por outro lado, Dylan “redescobriu” os Estados Unidos, encontrou uma leveza que jamais imaginou vislumbrar.
Nos concertos, o protagonista pintava o rosto e usava um chapéu. A máscara, colocada em algumas apresentações, simboliza perfeitamente seu amadurecimento, visão de mundo e vulnerabilidade. A atriz Ronee Blakley conta que o cantor, em determinada situação, pediu ajuda e que ela não soube como reagir, já que estava diante do gênio. Dylan não queria mais a gaita e os holofotes do palco vazio, queria que o povo e seus amigos o enxergassem em sua completude. Ao ver o rosto do protagonista, ficamos em choque, sabemos de quem se trata e negamos a possibilidade dele ser um humano com dores e dilemas comuns. As pinturas e a máscara são maneiras de encobrir a face, aquilo que foi construído no inconsciente popular e que não é real. É um grito por ajuda, a descida definitiva do pedestal, a única forma de se divertir no “escritório”.
As pessoas querem amá-lo e ser amadas, mas têm dificuldade em perceber o que há por trás da máscara, quem é o Dylan de carne e osso.
Em muitos momentos, a turnê parece ser uma desculpa para o compositor reunir o maior grupo de amigos possível. No chão do palco, havia um enorme tapete, remetendo instantaneamente a um ambiente caloroso e familiar – todos estão convidados a subir. As intimidades que dividia com Joan Baez são tocantes, ampliam o retrato do homem/músico e ressaltam que a cumplicidade entre os dois não parava no palco. A montagem combina minuciosamente entrevistas, imagens de arquivo e os shows, fomentando uma imagem paradoxal, humana e irônica de Dylan. Os cortes precisos potencializam o timing cômico da obra, principalmente quando ele “discorda” de um entrevistado. “É coração, não cabeça”. Como assim? Um artista famoso pelo ativismo e por ser um intelectual colocando a emoção acima da razão? Dylan foi perseguido, poucas pessoas tinham a intenção de conhecê-lo profundamente. Scorsese foi um dos poucos que saiu dessa zona comum.
Quando paramos e pensamos, isso faz todo o sentido. Dylan agia com o seu coração, sim, pensava, mas não na imagem que os demais formariam.
“The Lonesome Death of Hattie Carroll” e “Hurricane” são canções de protesto, que clamam pela liberdade de seres injustamente condenados, entretanto, não havia nenhum interesse a não ser o de ajudar tais figuras. Dylan não queria ser um político, apesar destes usarem suas letras como slogans, nem um militante, apenas usava seu palco para expor a sujeira de um país do qual tinha vergonha de habitar – “onde justiça é um jogo”.
A inusitada participação de Sharon Stone faz parte de uma pegadinha planejada por Scorsese. A tal história tocante é fictícia. A atriz não era uma “groupie” e o protagonista nunca foi a um show da banda Kiss, a qual eu não tenho dúvidas de que detesta. O mesmo vale para o suposto “diretor” do documentário original e do congressista vivido por Michael Murphy, cujo nome advém de um personagem que interpretou na série “Tanner ‘88”, de Robert Altman. Nosso biografado é dono de um humor peculiar e esse tipo de trapaça faz parte do jogo, além de estar ligada a críticas discretamente inseridas, como mencionei acima.
Segundo Scarlet Rivera, a fantástica e singular violinista, Dylan dava a oportunidade para os músicos serem quem quisessem. Isso diz muito sobre seu desejo pessoal.
Vivaz e genial; ultra intelectual e simples. Apenas respeitem e entendam o significado da máscara. Ela representa a incapacidade humana de enxergar um semelhante pelo simples motivo de estar em um palco.
A turnê foi definida por muitos pelos seus excessos. Era exatamente isso que Dylan pretendia: o excesso de amigos, afeto, música e apresentações intimistas. Um verdadeiro circo, no melhor sentido possível.
“Rolling Thunder Revue” ainda nos presenteia com partes dos shows na íntegra e imagens de arquivo raríssimas. Martin Scorsese e Bob Dylan, uma parceria que sempre gera bons frutos.