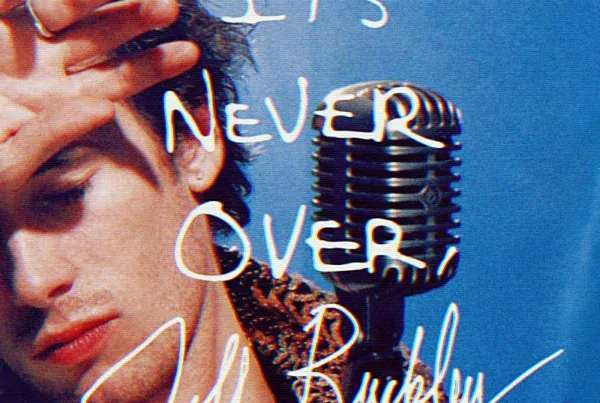Rosemary e Guy Woodhouse formam um casal feliz, prestes a se mudar, planejando um futuro repleto de filhos. Ela é uma dona de casa e ele, um ator pouco conhecido, cuja carreira se baseia em pequenos papéis em peças e comerciais televisivos.
O novo prédio tem um histórico de bruxaria, o que, obviamente, é visto como uma lenda por todos. Seus vizinhos, Minnie e Roman Castevet, são figuras ambíguas: prestativos e atenciosos a ponto de serem intrusivos e inconvenientes. Afinal, o que suscita tanto interesse no casal de idosos por Rosemary?
Guy é um sujeito brincalhão e, ainda que não tenha alcançado o sucesso desejado, nunca deixa de demonstrar à esposa o quanto a ama. Após uma conversa particular com Roman, ele começa a agir estranhamente.
John Cassavetes, um diretor cuja genialidade incomparável acabou ofuscando seu talento como ator, oferece uma interpretação perfeita, repleta de controle e espontaneidade – uma de suas marcas registradas. Ao mesmo tempo em que gostamos de Guy e de sua personalidade contagiante, passamos a duvidar de suas intenções. Cassavetes era um artista honesto, que se expunha na tela. Tenho convicção de que esse jeito animado, agitado e temperamental não estava apenas no roteiro. Amamos e odiamos seu personagem com a mesma intensidade, o que não é nada simples. Seus trejeitos e hábitos, no início otimistas, são intensificados, transformando a felicidade em nervosismo e medo. Na primeira vez em que assisti a este filme, tremia a cada momento em que Guy surgia, percebendo o seu inusitado comportamento. Agora, alguns anos depois, fiquei completamente hipnotizado pela forma delicada e expressiva que ele vive o personagem – um arco complexo e doído.
Grávida, Rosemary passa a ser paparicada pela vizinhança, tratada com um cuidado extremo, como se o filho não fosse somente dela. A protagonista não pode escolher o médico, nem o tipo de vitamina que tomará, absolutamente tudo é providenciado pelos Castevet, com o aval do marido. Nesse período, o ator que havia conquistado o papel de Guy em uma peça importante, acorda misteriosamente cego e Hutch, um antigo amigo do casal, o único que suspeita de algo, antes de entregar a prova capital para Rosemary, entra em coma e morre.
Trágicas coincidências e condutas cada vez mais descabidas colocam a protagonista, silenciosamente, numa posição de extrema vulnerabilidade. Acometida por dores insuportáveis, ela é basicamente ignorada pelo médico, Abe Sapirstein, cujo laudo é incessantemente repetido: “em alguns dias a dor passará”. A princípio, radiante e simpática, Rosemary fica pálida, magérrima, com uma aparência que remete a alguém adoecido, não a uma mulher saudável e grávida. Para piorar, os únicos pensamentos que fazem sentido, são justamente os que Guy e os Castevet rapidamente reprimem, fazendo-a duvidar, primeiro, da própria sanidade, depois, de todos ao seu redor. Inteligente, Polanski roda o filme quase que inteiramente dentro do apartamento, ressaltando a ideia de prisão, de um complô incorruptível e malicioso. Rosemary recorre ao seu antigo médico, explicando porque não o procurou mais e o perigo que ela e seu bebê corriam. Polanski nos dá um tempo para respirar e se acalmar, todavia, rapidamente potencializa a atmosfera angustiante, culminando num dos clímaces mais icônicos da história do cinema. A protagonista estava enganada, ninguém ali queria o seu mal, muito menos o do bebê, no entanto, estava certa ao notar que algo esquisito estava sendo arquitetado. Roman Castevet era, na verdade, o filho de Adrian Marcato, um antigo e famoso “bruxo” que viveu naquele edifício. Os vizinhos eram membros de sua seita satânica, que sonhava com o nascimento de Adrian, o líder que os guiaria ao caminho das trevas. Guy, seduzido pela ideia de se tornar famoso e proporcionar a sua família um futuro próspero, cedeu sua esposa ao capeta. No fim, o personagem não perdeu apenas sua mulher, também sua humanidade e capacidade de distinguir o certo do errado. “Ele tem os olhos do pai”, diz Roman, levando Rosemary a conclusão final e a um desespero poucas vezes visto.
A direção de arte é espetacular. Há quatro cores essenciais aqui: verde, amarelo, vermelho e azul.
A primeira tem a conotação de algo sobrenatural – associada à seita, ao tipo de magia realizado pelos personagens. Não à toa, está presente no escritório de Sapirstein, na casa dos Castevet e dos Woodhouse e em diversos adereços.
A segunda tem mais de um significado. Está diretamente ligada à fragilidade física e emocional de Rosemary – percebam como o amarelo se torna, gradativamente, mais presente – e à insanidade, no caso, dos membros da seita, que também enlouquecem a pobre coitada. Nesse sentido, vale ressaltar um breve momento, no qual é possível ver que Rosemary dorme com um cobertor branco e Guy, com um amarelo – faz parte do grupo. Uma terceira interpretação, igualmente válida e enriquecedora, é a de uma cor alegre, viva, dando a falsa impressão de que tudo está bem.
A terceira – e mais óbvia – ressalta os ideais dos Castevet, além de alertar o espectador de uma terrível e “invisível” violência sofrida por Rosemary.
A quarta conversa com a segunda, expondo, principalmente através das roupas utilizadas pela protagonista, sua vulnerabilidade, solidão e degradação.
A fotografia, a partir de tons frios, acinzentados e azulados, torna Nova Iorque uma cidade desesperançosa, repleta de incertezas. O apartamento, quase sempre escuro, é um complemento importante. As cenas nas quais Rosemary se vê imersa nas sombras refletem não só o seu estado, também sustentam a atmosfera tensa e aterrorizante.
A montagem confere uma certa agilidade ao filme, destacando o que de fato importa no arco dos personagens e na progressão da trama. No terceiro ato, em especial numa perseguição e na caminhada da protagonista que precede o clímax, os cortes precisos deixam as cenas ainda mais enervantes. A inserção de sequências oníricas é válida, casando muito bem com a proposta aterrorizante.
Polanski é um diretor muito sutil em suas observações. Há, por exemplo, uma situação chave que a maioria das pessoas talvez não note. Na primeira vez em que o casal janta na casa dos Castevet, o diretor usa um travelling que passa rente à cabeça de Guy, de frente para Roman, que discorre sobre seus pensamentos e conta histórias – modo elegante de expor a sedução. A escolha por não mostrar o bebê, focando exclusivamente na reação da protagonista, é digna de aplausos, genial.
Polanski sempre se preocupa com o posicionamento de seus atores dentro do quadro. Invariavelmente, vemos Rosemary deitada ou sentada, enquanto os outros estão de pé, ao seu redor – fragilidade e dominância. O que falar do desfecho, em que ela fica literalmente no meio, cercada por todos os seus vizinhos. Não há nada mais assustador e capaz de captar a sensação de vulnerabilidade do que isso.
Quando a protagonista entra no salão, onde o bebê é festejado, Polanski passeia com a câmera pelo ambiente, mostrando que, sim, havia um grande complô, não se tratava de uma paranoia. Ele usa planos-detalhe para entregar algumas pistas ao espectador e close ups para salientar a natureza duvidosa de determinados personagens e o desespero de Rosemary.
A trilha sonora é fascinante. Igualmente arrepiante em suas batidas assombrosas e no suave canto infantil.
Sidney Blackmer faz de Roman Castevet um homem aparentemente gentil, prestativo e de boas intenções, conseguindo, antes mesmo de “abrir o jogo”, ser uma figura imponente e cativante, cujo olhar penetrante e a voz milimetricamente calculada colocam os demais aos seus pés.
Mia Farrow impressiona pela entrega, começando como uma jovem alegre e, no fim, flertando com a insanidade e um pavor absolutamente palpável. A atriz concilia ingenuidade e desconfiança com maestria, transformando Rosemary numa personagem humana – não é demasiadamente burra, nem inteligente.
“Rosemary’s Baby” é um marco para o gênero do horror. Uma obra prima aflitiva e macabra, que deixa o espectador ansioso, querendo socorrer a protagonista.
O que você achou deste conteúdo?
Média da classificação / 5. Número de votos:
Nenhum voto até agora. Seja o primeiro a avaliar!