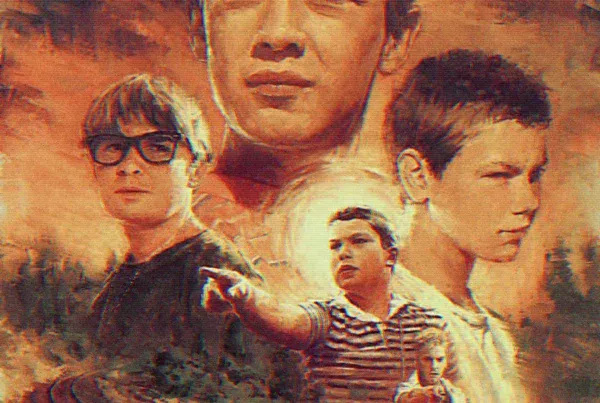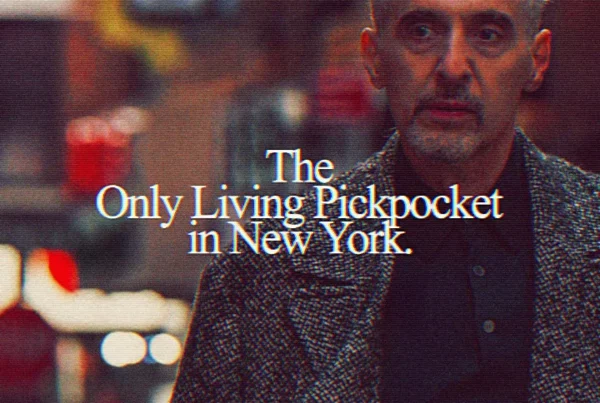Não é indicado que um crítico crie expectativas por um filme. Todavia, confesso que não estava lá tão animado para assistir “Young Sherlock Holmes”, pois, além de não conhecer o personagem célebre de Arthur Conan Doyle, não imaginava Barry Levinson dirigindo uma obra desse tipo.
Pois bem, eu estava enganado. Com poucos minutos me vi completamente atraído por aquele universo e pelos personagens. Vale ressaltar que este filme não é baseado em nenhum livro, como os próprios créditos finais ressaltam, é uma homenagem a Doyle e uma especulação sobre o primeiro encontro entre Holmes e Watson.
O protagonista é uma figura magnética, que impressiona pelo brilhantismo e pelo apurado senso de dedução, mas também pela sensibilidade. Ele vive um romance com Elizabeth e, ao ser perguntado o que deseja fazer quando crescer, não titubeia: “não quero ficar só”.
A direção de arte é um dos pontos altos do filme, sendo responsável, ao lado da fotografia, pela concepção de uma Londres misteriosa e fria.
O internato, com as longas mesas de jantar, as velas, aulas de esgrima, uma biblioteca imensa e salas repletas de bugigangas, somados à aventura vivida pelos personagens, as interações e o trio central, formado por dois garotos e uma garota, não te lembram algo? Basta dizer que o roteirista Chris Columbus foi o responsável por “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e “Harry Potter e a Câmara Secreta”.
Iniciando o filme num beco, com a sombra de um ser enigmático que quase sempre surge atrás de algo, Levinson já dá indícios do tom que adotará. A perseguição é inquietante e o tal ser assopra sua zarabatana, disparando um espinho no pescoço de um idoso. O senhor entra em um restaurante e começa a alucinar, dando início a um surto que termina no seu suicídio.
O Reverendo da escola é a segunda vítima. Na igreja, ele é confrontado pelo cavalheiro que salta do vitral – obviamente, é algo projetado por sua mente, envenenada pelo espinho. Vale ressaltar que o cavalheiro foi o primeiro personagem gerado inteiramente por computação gráfica na história do cinema.
Enquanto isso, acompanhamos o cotidiano de Holmes, que é tratado como um gênio pelos colegas, quase um herói. Seu rival, Dudley, propõe um desafio e o protagonista, com sua astúcia peculiar, encontra o prêmio escondido. “A mente que deduz não descansa”.
A terceira vítima é Waxflatter, tio de Elizabeth. Holmes, então, juntamente com os amigos, decide investigar essa onda de homicídios, ignorada pela polícia local. O protagonista encontra um padrão e chega a uma conclusão a partir de pistas, aos meus olhos leigos, pouco relevantes. O trio passa por ambientes estranhos, até chegar ao templo egípcio dos Rame Tep, um grupo religioso liderado por Eh-Tar, que, em sua infância, prometeu vingança àqueles que saquearam uma pirâmide contendo os túmulos de cinco princesas. As garotas desaparecidas e os senhores envenenados faziam parte desse plano e Holmes, além de não contar com o apoio do detetive Lesgrand, corre um enorme perigo.
A arquitetura grandiosa, os símbolos religiosos, a presença marcante do dourado e as esculturas bizarras fazem do templo dos Rame Tep um lugar à parte naquele universo – poderoso e ameaçador.
Nada aqui é inserido à toa, alguns elementos, apresentados despretensiosamente, são fundamentais no desfecho. A invenção voadora de Waxflatter, a princípio, alimenta o humor na trama, no entanto, é primordial para que Holmes e Watson alcancem os antagonistas.
No pouso, o gelo se parte e sabemos que isso afetará o embate final. O anel dourado do professor Rathe, rapidamente destacado por Levinson, é a prova definitiva de que ele está envolvido com o culto. O mesmo serve para as aulas de esgrima, já que a última luta envolve espadas.
No clímax, a intensidade dos cortes e o brilhante uso de montagem paralela elevam o caos e a tensão. Watson tem o seu arco de redenção, indo de um garoto medroso e atrapalhado para um jovem corajoso. No fim, não temos dúvidas em relação à vocação e ao futuro de Holmes, que também é obrigado a lidar com uma inesperada dor. O roteiro é corajoso, não se prende a convenções, eliminando personagens que julgávamos ser “intocáveis”.
Antes da Marvel encher seus filmes de cenas pós-créditos, “Young Sherlock Holmes” deu início a essa moda, ou seja, estamos falando de uma obra que abriu horizontes e quebrou alguns paradigmas.
Nicholas Rowe está fantástico na pele de Sherlock Holmes. O ator controla perfeitamente a racionalidade do protagonista com o notável carinho que nutre pelos amigos. Há um charme tipicamente inglês em sua performance e eu gostaria que continuações tivessem sido realizadas.
Sua química com Alan Cox, que interpreta Watson, é incrível, e as cenas que Rowe divide com Sophie Ward, que dá vida a Elizabeth, são distintivamente doces e bonitas.
“Young Sherlock Holmes” merece um reconhecimento maior, é um grande filme.