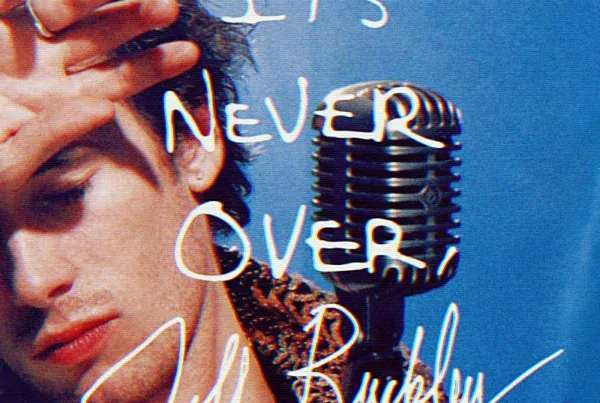O grande mérito de “The Queen” reside na forma complexa e desafiadora com que o filme retrata a Rainha Elizabeth II. A frieza e o pragmatismo são evidentes e percorrem os corredores do palácio. Todos que se dirigem à alteza, parecem pisar em ovos, como se carregassem um gigantesco vaso de porcelana por um jardim espinhoso. A protagonista aprendeu a se esquivar de emoções e confere uma conotação burocrática a qualquer ocorrência, seja ela trivial ou trágica. Na primeira cena do filme, a Rainha praticamente admite que sente falta de não ser uma divindade. Quando Frears abre o quadro, vemos que alguém está pintando um retrato seu, o que reforça seu status e a facilidade que tem em manter poses.
O novo Primeiro-Ministro, Tony Blair, é o mais jovem a ocupar o posto e promete modernizar a constituição. Logo de cara, o embate geracional é estabelecido; todavia, diferentemente de seus colegas, ele nutre uma forte empatia pela Rainha. Seu sentimento, a princípio, é um tanto incompreensível para o espectador, que acompanha o cotidiano de uma mulher alheia ao seu povo e às mudanças no mundo. Sua insensibilidade fica escancarada após o anúncio da morte da Princesa Diana, que, àquela altura, era ex-esposa de Charles III (filho de Elizabeth) e não fazia mais parte da Família Real. A comoção é geral e as imagens de arquivo, com a multidão chorando e prestando homenagens, trazem um aspecto documental à obra.
A Rainha segue tradições, não seu coração; as pessoas esperam por um pronunciamento e ela, ao lado de seus familiares, fica exilada em Balmoral. Um funeral privado é a escolha óbvia e convencional, no entanto, tendo noção do impacto de Diana, conhecida como “Princesa do Povo”, Blair acredita que uma cerimônia aberta seria mais adequada. Diana desafiava as tradições da realeza e não tinha medo de expor fragilidades, o que incomodava Elizabeth, que não nutria sentimentos lisonjeiros em relação à mãe de seus netos. Os jornais, conhecidos por pressionarem regularmente a Família Real, não perdem a chance de sujar a imagem da Rainha, cujo silêncio é interpretado como descaso e senso de superioridade.
Em uma reunião, a câmera atravessa uma mesa extensa, na qual os representantes discutem se é melhor usar um carro fúnebre ou uma carruagem. Através de planos gerais, Frears apresenta o terreno de Balmoral, enfatizando que aqueles seres vivem num universo paralelo e desconexo da realidade. Blair é sutil em seus apontamentos, sua vontade de revitalizar a imagem de Elizabeth é genuína – afinal, ela é a figura máxima do país – e, mesmo assim, é difícil compor qualquer tipo de diálogo. Isolada na natureza, a protagonista chora. Frears a enquadra de costas; demonstrar emoções não é algo previsto em seu manual. Depois, ela enxuga as poucas lágrimas e se recompõe, como se nada tivesse acontecido. Uma simples virada de rosto e uma mínima mudança na expressão facial são suficientes para captarmos seu descontentamento. O mesmo ocorre quando a Rainha, sem dizer uma palavra sequer, concorda com Blair e decide ir a Londres para entrar em contato com seus súditos.
“Quando não se entende mais o povo, é hora de ceder à próxima geração”. Por incrível que pareça, seu marido e sua mãe são consideravelmente mais fechados – os verdadeiros monarcas. Ela mal consegue esconder a dor da rejeição e do ódio popular, acentuados pelas manchetes cada vez mais difamatórias. Elizabeth chegou ao trono aos 25 anos e foi ensinada, desde cedo, a seguir a cartilha da retenção emocional e da discrição máxima. Após décadas no cargo mais pomposo do universo, não podemos exigir que uma mulher doutrinada possa mudar radicalmente. Ela escolheu essa vida? Sua personalidade lhe foi imposta ou é algo natural? Frears adota uma abordagem intimista e explora a introspecção de uma esfinge, de alguém que não pode agir como bem entende, ou pior, nem se lembra de como agiria em situações delicadas.
No reencontro entre Blair e Elizabeth, notamos uma certa tensão, mas, também, um respeito tímido e mútuo.
A Rainha habita castelos suntuosos; por outro lado, o Primeiro-Ministro vive austeramente, assume a função paterna, deixa sua guitarra à mostra e veste a camisa do Newcastle – esse contraste é necessário para o equilíbrio. Michael Sheen trabalha o lado humano de Blair, suas ambições, dúvidas e preocupações relacionadas à imagem de Elizabeth. Ele sabe que anda numa corda bamba e que não pode usar sua popularidade para explodir a Família Real. Dito isso, o show é de Helen Mirren, que atinge o raro feito de se confundir com uma figura dessa magnitude, fugindo de maneirismos baratos e desnecessários. Os trejeitos criados são orgânicos e fundamentais para compreendermos a alma de um ser difícil. A entonação vocal suave é infinitamente mais poderosa que qualquer grito. Ela explora um lado desconhecido pela maioria a partir de gestos e reações comedidas. Sua composição é tão rica, que não permite afirmações categóricas – em um raro ato de bom senso, a Academia a premiou na edição de 2007.
“The Queen” é uma obra extraordinária, muito provavelmente, a melhor da carreira de Stephen Frears.