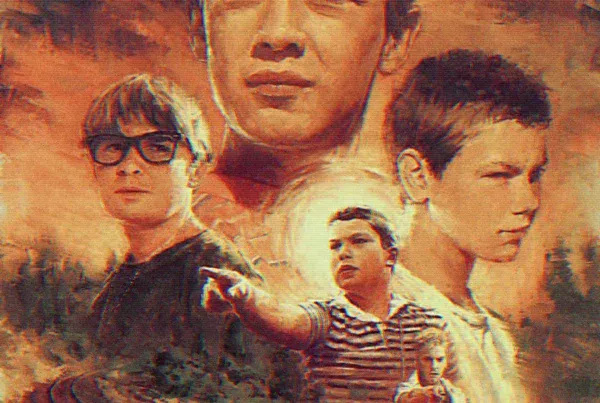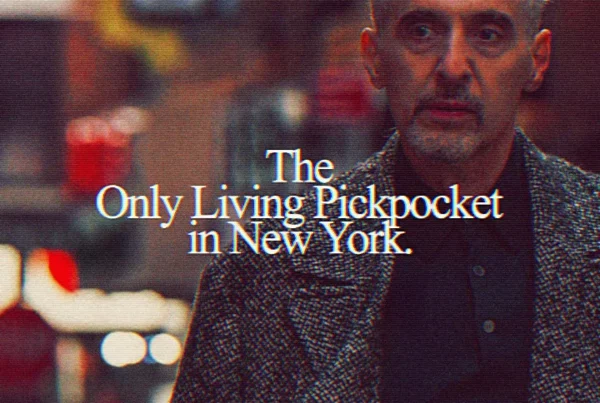Marion Post chegou aos cinquenta anos de idade e não poderia estar mais satisfeita com sua vida, pessoal e profissional. Ela é diretora do departamento de filosofia em uma prestigiada faculdade para mulheres e seu marido, Ken, é um cardiologista respeitado.
A protagonista tirou uma licença do trabalho para escrever um livro e decidiu alugar um escritório – assim não teria que lidar com distrações diárias. Repentinamente, Marion começa a escutar vozes. São de um consultório psiquiátrico, ao lado de sua sala. Ela, então, se vê obcecada pela fala de uma das pacientes, não por pura curiosidade, mas por perceber que as aflições da tal moça são idênticas às quais sempre evitou.
Marion tinha uma imagem idealizada do que seria uma boa vida e seguiu cada passo com empenho. O marido, as conquistas profissionais e os encontros sociais estão lá, todavia, o que há por trás de todos esses itens?
Seus amigos, pertencentes a alta sociedade nova-iorquina, parecem estátuas apropriadas a um determinado espaço. As interações são triviais e a musculatura de suas faces deve doer. Sorrisos de pessoas que traçaram os mesmos planos, tão imersas nas suas aparências, que não sabem diferenciar a mentira da realidade. Pior: pessoas que transformaram a mentira em realidade.
Marion rejeita sentimentos – os considera embaraçosos -, é uma mulher fria e cerebral que enxerga a situação, porém é incapaz de notar a falta de paixão e envolvimento. Seu casamento é uma convenção, algo que você diz aos outros a fim de tirar um peso das costas. Esse tipo de aceitação, com o tempo, atinge o efeito reverso. Ken parece distante, alheio às emoções da esposa, apenas seguindo sua agenda pessoal de feitos.
Por que eles saem com casais que detestam? Por que passam o aniversário de noivado com amigos, não a sós? Por que Marion se casou com um homem que não a enxerga como “o tipo que faz sexo no chão da sala”? A expressão até serve num contexto literal, no entanto, se torna mais reveladora quando a interpretamos da seguinte maneira: Ken considera a protagonista uma mulher fria e frígida, que se encaixa perfeitamente nos seus padrões sociais, mas que deixou de interessá-lo sexualmente.
A tal moça, a paciente cujo nome, Hope, não poderia ser mais simbólico, abre a mente de Marion não apenas para o presente, mas também para o passado. Ela acredita que sua relação com seu irmão, Paul, que está prestes a se divorciar é excelente.
A protagonista julga as escolhas do irmão, a mulher com quem decidiu casar, seu emprego comum…
Woody Allen, empático como é, opta por uma narrativa capaz de contemplar todos os pensamentos, dúvidas e tormentos da personagem principal. Quando ela visita seu pai e olha algumas fotos antigas, se transporta para aqueles cenários, onde vê o irmão sendo obrigado a abandonar anseios para que a família tenha condições de pagar a renomada faculdade de Marion, tida como o prodígio da casa. Paul foi forçado a odiá-la e a protagonista, dispersa e presa ao seu universo, nunca estendeu a mão ou o ajudou, afinal, não identificava nada de errado…
Por acaso, Marion esbarra em Claire, sua melhor amiga na juventude. No restaurante, no qual tomam drinks, Claire fica de fora da conversa – e da mesa – e fica só observando seu marido e a protagonista, enquanto se contorce de ódio. Aquela situação, por mais inocente que seja, sintetiza o fim da amizade entre as duas. Marion sempre foi a mais interessante e inteligente, deixando Claire de lado, sem ter ideia de que isso a entristecia e que abalava sua autoestima. “Meu marido se impressiona com coisas que não posso lhe oferecer”. Elas não se desencontraram, como a protagonista pensava; Claire se afastou.
Os flashbacks são bem inseridos, pontuando, por exemplo, que Marion se apaixonou perdidamente por Larry e que escolheu Ken justamente por ser incapaz de admitir sentimentos profundos. Quem sobrevive assim? Em uma sequência onírica, Marion assiste a uma peça sobre sua vida e conversa com Larry, agora casado, feliz e emocionado pelo fato de ter se tornado pai. Era para ter sido a protagonista, não à toa, ele dedicou uma personagem em seu livro, a qual descreveu com imenso afeto, a Marion. Ela queria ter filhos? Talvez, mas se fechou a essa possibilidade desde jovem, o que levou a morte de seu primeiro marido, seu professor na faculdade. A protagonista achava que ele havia falecido naturalmente, mas não, Sam se suicidou, muito em razão do aborto realizado por ela sem seu consentimento.
Em outro sonho, seu pai, uma espécie de espelho a ser seguido em sua trajetória, fala para o psiquiatra que se arrepende de ter se casado com a mulher “certa”, não a que amou, e de ter pegado tanto no pé de Paul, o que, eventualmente, destruiu a relação que tinham. Marion é abastecida de reflexões e estímulos poderosos, postos em tela da forma mais honesta possível. O voiceover também é fundamental, responsável por potencializar a complexidade de uma personagem num doloroso processo de autorreflexão.
Seu rosto, gradativamente, perde o brilho – se é que existia algum -, aderindo à sua real inexistência, ao seu enorme vazio. A protagonista é o exemplo ideal daquilo que não queremos nos tornar e ela descobre isso. Seu corpo pode até estar presente nos encontros com os “amigos”; sua mente, não.
Os paralelos entre Hope e Marion são muito bem trabalhados. Além das questões similares, as duas abandonaram uma potencial carreira como pintoras e vestem roupas parecidas. Quando a protagonista a persegue – até pela cena se passar à noite -, é como se estivesse indo atrás da própria sombra. É Hope quem a leva a Claire. É Hope quem coloca um ponto final no seu casamento com Ken.
Hope é uma presença espiritual, quase divina. Quando Marion associa todas as informações e decide se libertar de amarras danosas, ela some.
O desfecho é lindíssimo, provavelmente o momento mais romântico da carreira de Woody Allen. Se Larry escreveu algo tão belo e igualmente certeiro em relação à sua aversão a sentimentos, ainda existia esperança.
Sven Nykvist, o diretor de fotografia favorito de Ingmar Bergman, tem uma predileção por tons frios, mergulhando a protagonista num universo pessoal e angustiante. Marion, muitas vezes, caminha em direção à escuridão e o uso de sombras é perfeito ao expor sua fase nebulosa e necessária.
A trilha sonora, ao som de Gymnopédie No. 1, de Erik Satie, é absolutamente maravilhosa. Não há nada mais romântico e melancólico que esse tema.
Gene Hackman e Ian Holm estabelecem as personalidades opostas de seus personagens com propriedade, sem cair em clichês.
Gena Rowlands, famosa por suas performances monumentais nos filmes de John Cassavetes, surge, aqui, introspectiva e emocionalmente sugada.
“Another Woman” é uma obra prima.