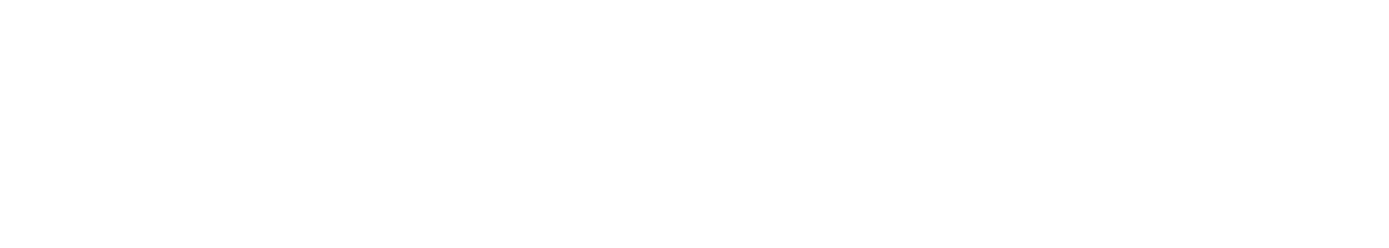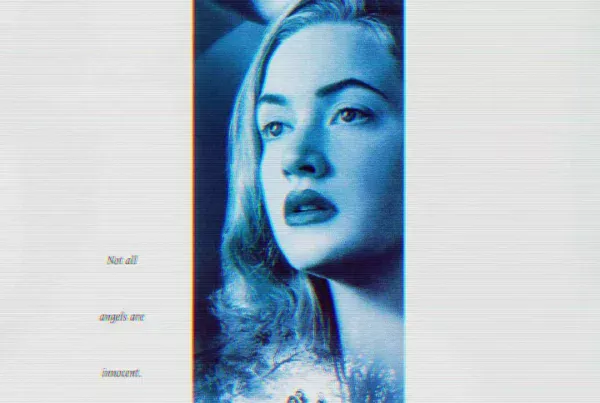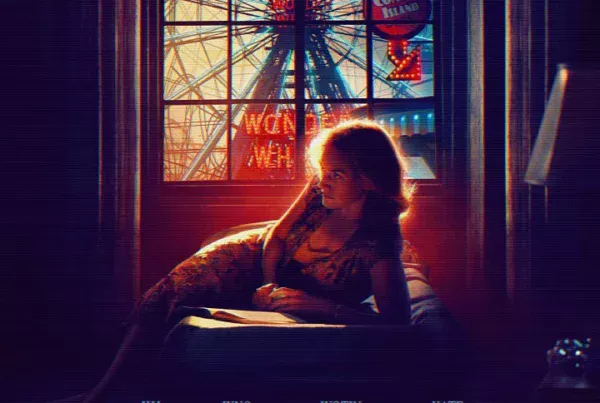Em sua crítica sobre “Julien Donkey-Boy”, Roger Ebert colocou Harmony Korine ao lado de Godard, Cassavetes, Herzog e Tarkovsky, numa lista de cineastas que rompem com as narrativas convencionais.
Antes do filme começar, surge um certificado do “Dogma 95”, com assinaturas de Lars von Trier e Thomas Vinterberg. Para quem não sabe, o “Dogma 95” foi um movimento cinematográfico criado pelos diretores dinamarqueses citados acima que surgiu em meados da década de 90. Seu principal objetivo era simplificar o processo de produção, diminuindo, ao máximo, os recursos da equipe envolvida no projeto, propondo, assim, um retorno aos “primórdios” da sétima arte. Aos 25 anos, em seu segundo trabalho atrás das câmeras, Korine, um americano sem qualquer raiz nórdica, entrou, de vez, para o grupo dos rebeldes da indústria.
Diferentemente de seus “filmes-irmãos”, como “The Idiots” e “The Celebration”, “Julien Donkey-Boy” dificilmente funcionaria sem os princípios estéticos do “Dogma 95”. Ao abordar o cotidiano de um jovem esquizofrênico que vive com sua família disfuncional, Korine precisaria correr riscos – e ele os correu com uma sensibilidade notável. A tela é dominada por cores estouradas e predominantes – quando há vermelho, há muito vermelho; quando os tons são opacos, eles são muito opacos. A fotografia granulada é uma marca do “Dogma 95” e Korine brinca com a textura da imagem, tornando-a menos “palpável” de acordo com a situação – por vezes, vemos apenas borrões e traços. A montagem soa como uma pistola descontrolada, com cortes que desafiam a física e que emulam o sistema nervoso de Julien, cuja imprevisibilidade nunca falha. A montagem talvez seja o ponto alto em termos experimentais. Korine, diferentemente da maioria dos cineastas, quer que o espectador sinta os cortes; quer que experienciemos o funcionamento daquela mente. Sua câmera, por razões “dogmáticas”, está sempre na mão, retratando o caos e a instabilidade do cotidiano. O uso de zoom, a inserção de freeze frames e a predileção por manter o quadro fechado, como se estivesse examinando e sufocando Julien, são fundamentais na fomentação de uma atmosfera que gera estranhamento e que visa a verdade em seu estado bruto. Korine brinca com o ritmo, indo de “respiros” a “porradas” em instantes.
Não há trama, muito menos senso de continuidade. É como se estivéssemos num labirinto sufocante e, aos poucos, entendêssemos que a graça não está numa possível saída, mas nos círculos que ganham em complexidade. Julien passa os dias tentando entender o ao redor; tentando interagir com o meio e com as pessoas; tentando ser doce e prestativo. Tudo é um esforço, então por que a experiência do espectador deveria ser simples? O cinema é a arte que nos empresta lentes inimagináveis.
Julien mora com Chris, seu irmão, que sonha em ser um wrestler profissional, Pearl, sua irmã, que está grávida e que, devido à morte da mãe, assume uma função materna e o pai, um tirano alemão que abusa psicologicamente dos filhos e que adora relaxar usando uma máscara de gás. Interpretado pelo lendário cineasta Werner Herzog, fã declarado de “Gummo”, o pai explora Chris com treinamentos tortuosos que destroem sua autoestima e é incapaz de demonstrar amor por Julien, cujo distúrbio é completamente ignorado. Em um dos momentos mais bizarros do filme, o pai pede para Chris colocar o vestido da falecida mãe para que possa “dançar com ela” novamente. Herzog, dono de uma voz chamativa e de um senso de humor peculiar, tira o papel de letra, compondo um personagem desprezível e cômico em sua insignificância, com direito a “aulas” que remetem aos seus documentários. Pearl é retratada como um anjo na terra: ela dança, toca harpa, patina, está grávida e aparece com roupas brancas. Em um curto fragmento, a montagem, através de uma sobreposição de imagens, ressalta seu rosto, o que vai ao encontro deste retrato. Seu carinho perante Julien é destacado em diferentes gestos, como, por exemplo, aquele no qual simula ser a mãe, de quem o protagonista sente muita falta, numa ligação telefônica. Sua reação ao ser perguntada sobre o pai de seu filho (e outras sutilezas) nos levam a crer que algo perturbador a cerca, o que eleva sua aura angelical.
O mundo de Julien é triste e feio. Ele usa dentes de metal; afinal, os seus, sem cuidado, apodreceram. Sua solidão, construída por um ambiente que não o reconhece, parece irremediável. Ainda assim, diante da bagunça e da gritaria, ele faz o possível para sorrir, provando, por mais erros (e até crimes) que cometa, que é um ser humano doce e incompreendido. Julien trabalha voluntariamente numa clínica para deficientes visuais. Eles não o enxergam e ele não é cego, mas há uma conexão tão poderosa e genuína naquelas interações, que só poderia ter sido pensada por um diretor que admira o ser humano e evita qualquer olhar pejorativo. A performance de Ewen Bremner é algo a se aplaudir de pé. Seus olhos denotam uma profunda curiosidade e uma vontade intensa de ser feliz/de ser um protagonista de sua vida. Infelizmente, inábil, Julien, talvez sem perceber, também demonstra insegurança, medo e melancolia com uma potência descomunal. Bremner destaca, a partir da corporalidade, essa vontade constante de interagir e um receio inocente de incomodar os entes queridos – o que é contraditório, já que ele mal reconhece limites.
“Julien Donkey-Boy” é uma obra prima disfuncional.