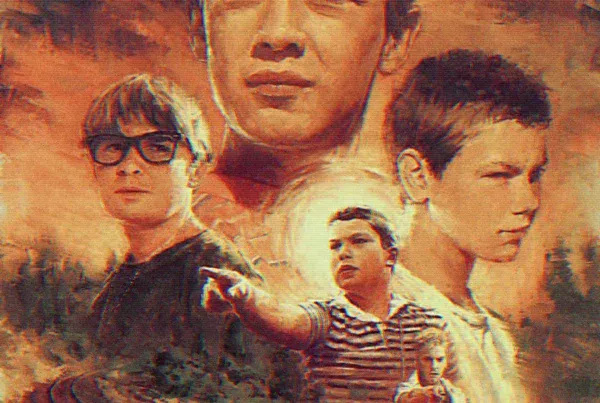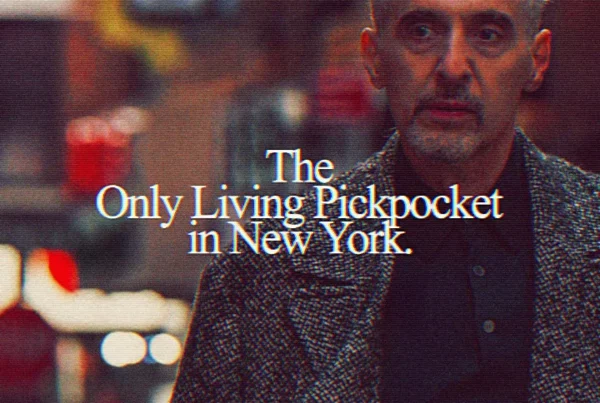“Once” não é um musical, mas tem na música o seu centro narrativo. Os personagens conversam, mas é quando cantam que realmente fomentam intimidade. As canções são introduzidas da forma mais orgânica possível. John Carney não nomeia seus personagens; eles estão por aí, no cotidiano das mais diversas cidades. O cineasta rodou o filme em pouquíssimos dias e o baixo orçamento é um de seus grandes trunfos. O uso constante de câmera na mão e a fotografia “pouco elaborada” conferem a crueza necessária para que o espectador sinta que está invadindo a vida de pessoas comuns.
Na parte da manhã, o homem, com seu violão estropiado, apresenta clássicos que são bem recebidos pelos transeuntes. À noite, quando a rua está vazia, ele toca músicas de autoria própria; composições que saem de sua alma machucada. A mulher fica impressionada com o seu talento e os dois estabelecem uma relação fascinante. Ela é tcheca, deixou o marido, com quem já se deu melhor, vende flores e vive com a mãe e sua filha. Ele ajuda o pai na sua loja de aspiradores de pó e ainda sofre pelo término do namoro – não à toa, guarda uma foto da moça em sua mesa de cabeceira. O homem acorda, segue uma rotina entediante e guarda suas emoções nas fitas mal gravadas e nas caixas com as composições. A mulher, diante dessa figura cética, enxerga o talento e a honestidade das palavras. Ela toca piano, porém não tem condições de comprar um, então, ocasionalmente, pede permissão ao dono de uma loja de instrumentos.
No primeiro dueto, fica nítido que estamos diante de um amor que vai além da compreensão humana. Em vez de flertes, eles cantam canções que expõem suas fragilidades, dores e desejos. Carney fecha o quadro, ressaltando a aproximação instantânea. Quando ela pergunta sobre sua namorada, ele, tímido, prefere cantarolar versos que vão direto ao ponto. Sem a música, esses personagens jamais se interessariam um pelo outro.
As pessoas falam muito em provas de amor e Carney, à sua maneira, as coloca em tela. O homem compartilha suas composições e pede uma opinião sincera; é uma declaração de afeto velada que nem todos vão entender ou valorizar. “Eu tinha veia romântica”. Aos poucos, a mulher recupera a essência do homem, que, ao mesmo tempo em que começa a lidar melhor com os fantasmas do passado, se apaixona pela pianista que compartilha dilemas similares e se mantém em sintonia com sua sensibilidade. Ele ensaia e compõe mais, pois tem mais a dizer. As canções deixaram de ser desabafos de uma alma acinzentada, mas uma maneira de remediar a dor e de se declarar.
O homem, a fim de eternizar os dias em que a música deixou de ser um meio de ganhar dinheiro na rua, decide alugar um estúdio para gravar tudo em alta qualidade. Carney não está interessado em dar esperanças ao espectador de que os dois vão ficar juntos e o disco é mais uma das demonstrações de afeto “pouco convencionais”. Eles podem estar em países distantes, todavia, sempre que escutarem aquelas canções, se lembrarão do outro por inteiro, dos bons momentos e do amor que nunca foi consumado. Não é um simples charme de Carney, o roteiro é firme nos empecilhos e na justificativa do porquê dos dois não poderem ficar juntos – a fria Dublin é diferente da calorosa Hollywood. No estúdio, somos presenteados com uma sequência espetacular, na qual a banda (os outros membros são escolhidos nas ruas) apresenta “When Your Mind’s Made Up” para o produtor. A princípio, ele os trata como uns quaisquer, no entanto, gradativamente, muda a expressão, percebendo a qualidade do conjunto.
Os últimos vinte minutos são um sopro de alegria e o desfecho é mais perfeito do que eu poderia prever. Glen Hansard e Markéta Irglová oferecem performances singelas e o fato de não serem atores profissionais é fundamental para o nível de autenticidade.
“Once” é um pequeno milagre da sétima arte.